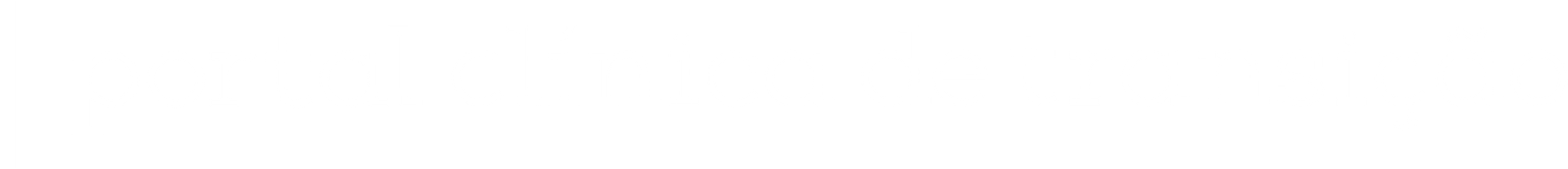Quando encaminhar pacientes de alta complexidade para uma clínica de transição de cuidados?
Entregar o que cada paciente precisa, no momento certo, é um critério definidor para o alcance dos melhores desfechos possíveis. Por isso, acompanhar toda a jornada do paciente com coordenação de cuidados articulados é cada vez mais necessário.
Nas mais diferentes áreas médicas, existem casos que podem exigir tratamentos de alta complexidade, que demandam trabalho multidisciplinar e coordenado, assim como apresentam diversos desafios.
Neste artigo, iremos entender melhor como e quando devem ser realizados os encaminhamentos de pacientes da alta complexidade para clínica de transição de cuidados.
O que é considerado um paciente de alta complexidade?
No Brasil, a organização do Sistema de Saúde se estabelece em três níveis: baixa, média e alta complexidade. As categorias são definidas com base na demanda por recursos humanos e tecnologia de cada caso.
Em outras palavras, não estão necessariamente ligadas à gravidade ou qualidade de um atendimento, mas sim ao número e diversidade de profissionais e infraestrutura tecnológica de saúde necessários.
“São pacientes que demandam recursos tecnológicos de alta complexidade, para atendimento às suas necessidades clínicas durante a fase aguda de sua doença ou agravo.
Após a estabilização clínica, muitos tornam-se pacientes crônicos, dependentes para as atividades de vida diárias, em uso contínuo de dispositivos invasivos para auxílio nos processos de alimentação, respiração ou eliminações.
Quando estes pacientes findam sua jornada no hospital de alta complexidade, por ainda necessitar de cuidados especializados, sua desospitalização torna-se um desafio para os hospitais de alta complexidade, para as operadoras e para a cadeia de saúde”, explica a Gerente de Relacionamento Comercial da Rede Paulo de Tarso, Thamires Mayrink.
Nesses casos, a unidade de transição de cuidados é ferramenta indispensável para garantir a segurança dos pacientes no processo de desospitalização, além do retorno para casa em melhores condições de mobilidade e autonomia.
Principais benefícios das clínicas de transição para pacientes que tornam-se portadores de condições crônicas
Os pacientes portadores de condições crônicas podem apresentar desde dependências para execução de atividades básicas da vida diária, até uso de dispositivos invasivos como cateteres de alimentação, oxigenação suplementar, uso de dispositivos respiratórios como traqueostomia e ventilação mecânica, uso medicação intravenosa, entre outras particularidades.
Por isso, as clínicas de transição trazem benefícios de alto impacto para esses pacientes, tanto em relação a capacitação do paciente e família para um processo de alta segura, quanto em relação à melhora da qualidade de vida e independência proporcionadas pela reabilitação e adaptação. A equipe multidisciplinar oferece visão ampliada e, ao mesmo tempo, específica para as necessidades de cada paciente.
“Muitas vezes, os hospitais gerais não podem dar alta a estes pacientes diretamente para suas casas, mesmo depois da condição aguda ser estabilizada, por ainda ainda ser necessário um outro estágio de cuidado. É aí que entram as clínicas de transição”, explica Mayrink.
As clínicas de transição são a ponte entre os hospitais de alta complexidade e o domicílio dos pacientes. Entre os trabalhos desenvolvidos, estão:
- Reabilitação dos pacientes: melhorar condições de mobilidade e independência, força muscular, movimentação, busca pelo desmame de dispositivos invasivos, entre outros;
- Adaptação dos pacientes e das famílias às sequelas irreversíveis: adaptação à cadeira de rodas, capacitação para cuidados com traqueostomia e sondas, entre outros;
- Educação em saúde: cuidando e ensinando a família e/ou cuidadores como prevenir novos incidentes e os cuidados necessários em casa.
Além disto, a unidade de transição também oferece os cuidados paliativos, direcionados a pacientes portadores de doenças sem prognóstico de cura, especialmente nas fases mais agudas da doença. O objetivo da unidade de transição, nestes casos, é a identificação e o manejo adequado de sintomas, o acolhimento e amparo ao paciente e seus familiares, e a promoção da melhor qualidade de vida que for possível a cada caso.
Critérios para encaminhamento dos pacientes para uma clínica de transição de cuidados
Assim como o próprio tratamento, a decisão de encaminhamento de um paciente para unidade de transição precisa ser tomada a partir de um debate entre os membros da equipe que assistiu o paciente durante sua jornada na alta complexidade, assessorados pela equipe da Unidade de Transição.
São critérios de elegibilidade para internação em unidade de transição:
- Pessoas com perda de autonomia e funcionalidade com potencial de reabilitação funcional onde se indique terapias intensivas de reabilitação a nível de internação;
- Descompensação de doença crônica que requeiram cuidados hospitalares de baixa e média complexidade;
- Demandas de intervenções para prevenção de agravamento de doenças crônicas;
- Situações de dependência após episódio de doença aguda, onde se faz necessária a transição de cuidados e educação em saúde para alta- hospitalar segura;
- Intervenções a nível hospitalar para conforto no processo de terminalidade;
- Pessoas que necessitam de cuidados pós-operatórios de baixa e média complexidade;
- Ausência de critérios para suporte clínico intensivo ou intervenções cirúrgicas;
Como funciona o processo de encaminhamento de um paciente para uma clínica de transição
Todo o zelo e meticulosidade da decisão de encaminhamento também se reflete no processo de transferência propriamente dito.
A primeira etapa é a formalização da demanda pelos hospitais ou operadoras à clínica de transição, o que pode ocorrer pessoalmente, por meio da Equipe de Cuidados Continuados Integrados, ou ainda por whatsapp, telefone ou email.
Depois disso, a equipe da unidade de transição realiza a regulação do caso, por meio de uma criteriosa avaliação assessorada por médico e equipe interdisciplinar. Então, a clínica oferece para operadora e familiares um parecer sobre o encaminhamento.
“Em caso de parecer favorável, o Time de Cuidados Continuados Integrados realiza a passagem do caso para o médico que será responsável pela assistência ao paciente na Unidade de Transição, juntamente com sua equipe. O objetivo é proporcionar à equipe todas as informações necessárias para continuidade de cuidados ao paciente, antes mesmo de sua chegada”, conta Mayrink.
O papel de médicos e operadoras de saúde nos processos de encaminhamento
Infelizmente, o trabalho das Unidades de Transição de Cuidados ainda não são bem disseminados em nosso país, embora sejam altamente necessários.
Como toda boa solução em saúde, o potencial das clínicas de transição na qualificação de desfechos e qualidade de vida para pacientes portadores de condições crônicas depende do envolvimento de toda a rede de saúde. Familiares, profissionais de saúde e operadoras de planos de saúde podem contribuir muito para isso.
No caso de médicos, a identificação precoce de pacientes aptos às Clínicas de Transição e o encaminhamento correto dessas pessoas são aspectos cruciais.
Os profissionais de saúde, em contato direto com os pacientes, têm a responsabilidade de serem os primeiros capazes de perceber essa possibilidade.
Por outro lado, as operadoras de saúde podem facilitar o acesso dos pacientes às clínicas de transição, promovendo parcerias com prestadores de serviço da área, além de treinamentos para os seus profissionais a respeito desta opção disponível na rede credenciada.
As clínicas de transição têm se fortalecido como opção de sustentabilidade e economicidade na transição de cuidados no país. Mas mais do que isso,oferecem aos pacientes crônicos a atenção específica que necessitam quando o quadro agudo já foi controlado.
“Hoje em dia, poucas pessoas conhecem o que é uma clínica de transição. Tanto profissionais quanto operadoras são essenciais para ajudar a ampliar o acesso às informações sobre os benefícios dessas soluções para os pacientes que dela precisam”, conta Mayrink.
Se você quer saber mais sobre as clínicas de transição, inscreva-se na nossa newsletter e receba conteúdos inéditos toda semana em seu email.
Fisioterapia: qual seu papel no modelo de transição de cuidados
Pessoas que passam por situações de saúde graves, como um AVC ou queda com fratura, ficam internadas por muitos dias na UTI ou são acometidas por uma doença incapacitante têm pelo menos uma coisa em comum: em maior ou menor grau, elas experimentam perda de funcionalidade.
Isso significa que elas terão dificuldades ou limitações para se movimentar ou realizar atividades diárias como escovar os dentes, se alimentar ou pentear os cabelos. Para reverter essa condição e prevenir o surgimento de outros problemas relacionados a ela, a fisioterapia é fundamental.
A seguir, vamos entender o papel dessa ciência nos cuidados e como ela é empregada no contexto das clínicas de transição.
O que é fisioterapia?
Fisioterapia é uma ciência da saúde que utiliza técnicas e abordagens terapêuticas para promover recuperação, prevenção e melhoria da função física, mobilidade e qualidade de vida de indivíduos com condições de saúde variadas.
Sendo assim, o fisioterapeuta é o profissional que trabalha fazendo a avaliação, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de distúrbios do movimento e funcionalidade do corpo humano.
Sua atuação é abrangente e se dá em 16 diferentes especialidades:
- Fisioterapia aquática,
- Cardiovascular,
- Dermatofuncional,
- Esportiva,
- Gerontologia,
- Fisioterapia do trabalho,
- Neurofuncional,
- Oncologia,
- Reumatologia,
- Fisioterapia respiratória,
- Traumato-ortopédica,
- Osteopatia,
- Quiropraxia,
- Acupuntura,
- Saúde da mulher,
- Terapia intensiva.
(Fonte: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional)
Como a fisioterapia se insere na transição de cuidados
No ambiente das clínicas de transição, o fisioterapeuta é uma importante adição à equipe transdisciplinar. Seus conhecimentos técnicos específicos contribuem para apoiar pacientes com terapias de redução da dor, recuperação da força muscular e prevenção de complicações.
Já na admissão do paciente, ele é o responsável por fazer um diagnóstico funcional, avaliando as condições atuais do paciente, seu histórico de saúde e suas necessidades. Essa análise inicial servirá de base para traçar os objetivos terapêuticos e as terapias para atingi-los durante o período de internação.
O fisioterapeuta também considera os riscos associados à condição de cada paciente e prevê ações para prevenir novos distúrbios.
No dia a dia, ele será responsável por conduzir o processo de reabilitação física do paciente (tanto motora quanto cardiorespiratória), o que pode envolver mobilização articular, exercícios de fortalecimento muscular e de funcionalidade.
Podemos dizer que o trabalho do fisioterapeuta na transição de cuidados envolve um olhar abrangente e crítico, que extrapola os atendimentos diários.
Esse profissional precisa considerar as condições que levaram o paciente àquela limitação, os possíveis riscos de agravo, o contexto familiar e social para, então, chegar ao melhor prognóstico funcional para cada indivíduo.
Fisioterapia nas 3 linhas de cuidados da transição
A fisioterapia faz parte do plano terapêutico de pacientes nas três linhas de cuidados oferecidas na transição – reabilitação, cuidados crônicos e cuidados paliativos.
As sessões são diárias e, sendo que a intensidade e o tempo de duração variam de acordo com o perfil e necessidades terapêuticas de cada paciente.
Na reabilitação, o objetivo principal é devolver funcionalidade ao paciente. A busca é, dentro das possibilidades de cada um, atingir o máximo de autonomia na realização de atividades de vida diárias, como andar (com ou sem auxílio), alimentar-se, ir ao banheiro, tomar banho e vestir-se.
Na linha de cuidados crônicos, a equipe de fisioterapia tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzir os sintomas, promover a independência e ajudar na gestão a longo prazo dessas condições de saúde.
Já na linha de cuidados paliativos, o foco principal da fisioterapia está na manutenção do conforto e da qualidade de vida do paciente.
Os exercícios, por exemplo, vão prevenir agravos de processos respiratórios (mobilizar secreções, melhorar oxigenação do sangue, promover reexpansão pulmonar, diminuir o trabalho respiratório, reeducar a função respiratória) ou lesões por pressão, um risco comum para pacientes que permanecem no leito por tempo prolongado.
Fisioterapeutas e a aplicação da cinesioterapia
Na transição de cuidados, os pacientes estão se adaptando a novas condições de saúde e a cinesioterapia (terapia do movimento) é imprescindível nesta fase do tratamento.
Essa técnica, combinada aos conhecimentos aprofundados de anatomia e fisiologia, é usada para promover o ganho de função motora e permite que os pacientes reconquistem a independência nos movimentos do dia a dia.
Levando em consideração as capacidades e limitações de cada paciente, os fisioterapeutas desenvolvem um programa de exercícios personalizados que ajudam a reeducar músculos e articulações, melhorar o equilíbrio e a coordenação, fortalecer grupos musculares, além de promover a flexibilidade.
A interação com a rede de apoio do paciente
Uma das características que diferencia e ajuda a tornar as clínicas de transição tão efetivas no retorno seguro ao lar é sua prioridade em envolver a rede de apoio nos cuidados do paciente.
Com o trabalho da fisioterapia não é diferente: a presença do familiar é essencial para que o desfecho para o paciente seja mais favorável, tanto durante a internação quanto no retorno ao domicílio.
A comunicação com a família sobre o prognóstico funcional do paciente, esclarecimento de dúvidas e o atingimento das metas terapêuticas acontece desde o momento da entrada até a alta.
Os fisioterapeutas também serão os responsáveis por ensinar e capacitar a rede de apoio nas formas corretas e seguras de movimentação (de que forma o paciente deve ser mobilizado, como transferi-lo da cadeira para a cama e vice-versa), como manejar dispositivos de via aérea artificial, os cuidados com a traqueostomia, entre outros.
Como se sabe, a fisioterapia desempenha um papel fundamental na transição de cuidados. Trabalhando para restabelecer a funcionalidade motora ou respiratória, ela contribui para a melhora do quadro geral dos pacientes, garantindo que eles atinjam o máximo possível de independência e autonomia para o retorno ao domicílio.
Além disso, oferece suporte e capacitação a familiares para que consigam oferecer, de forma segura, o suporte necessário a seus entes queridos.
Quer saber mais sobre a transição de cuidados e sua importância para pacientes, rede de apoio e sistema de saúde? Confira uma entrevista especial com o CEO da Rede Paulo de Tarso, Carlos Costa, sobre o assunto.
Reinternação hospitalar: entenda por que é importante evitar
Um dos grandes desafios enfrentados na saúde brasileira – tanto pública quanto privada – é o aumento das taxas de reinternação hospitalar.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente (IBSP), a média nacional de readmissões é de 19,8%, muito próxima da média considerada aceitável pelo Ministério da Saúde, que é de 20%.
Além de indicarem potenciais falhas na qualidade do atendimento prestado aos pacientes, índices altos de reinternação impactam o sistema em diferentes frentes:
- Dificultam a gestão eficiente dos leitos;
- Representam aumento de custos para hospitais e operadoras;
- Potencializam os riscos de complicações de saúde para os pacientes.
Neste artigo, vamos entender os motivos que levam um paciente a retornar ao hospital pouco tempo depois da alta, as desvantagens assistenciais, financeiras e logísticas que isso traz e também como a transição de cuidados pode se tornar uma alternativa eficiente para interromper esse ciclo.
Mudança no perfil de atendimento
Para falar sobre taxas de readmissão hospitalar (novas internações realizadas em menos de 30 dias após a alta) é preciso, antes, considerar o cenário de transição epidemiológica e demográfica pelo qual estamos passando no mundo todo.
Nossa população está cada vez mais envelhecida e isso traz impactos diretos na rede de saúde.
Os dados do Censo de 2022 do IBGE mostraram que o Brasil teve seu maior salto de envelhecimento desde 1940. Para se ter uma ideia, em 2010, a cada 30,7 idosos, o país tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora, são 55 idosos para cada 100 jovens. E a tendência é de que essa proporção continue a crescer.
Com pessoas vivendo por mais tempo, muda também o perfil das doenças prevalentes: diminuem os atendimentos por condições agudas e aumentam as internações por comorbidades crônicas e suas sequelas. Por consequência, a tendência é de crescimento nas taxas de internações e reinternações.
Quais são os riscos da reinternação para a rede de saúde?
Desde 2016, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) utiliza a Readmissão Hospitalar como indicador crucial para avaliar a qualidade dos serviços de saúde. Quanto menor for a taxa de readmissão, melhor é considerado o atendimento prestado pela unidade hospitalar.
Para que o índice seja atingido, a ANS espera que os hospitais promovam melhorias no gerenciamento do quadro clínico dos pacientes, façam um adequado planejamento de alta, promovam capacitação constante de equipe e identifiquem falhas em fluxos e protocolos de atendimento.
Isso porque o retorno não planejado ao hospital é prejudicial a todo o ecossistema da saúde, representando custos desnecessários, dificultando a gestão dos leitos e, sobretudo, expondo pacientes a riscos indevidos. Abaixo, vamos entender melhor cada um desses aspectos.
O prejuízo financeiro de uma reinternação
As readmissões hospitalares não planejadas acarretam custos adicionais consideráveis ao sistema de saúde, nos âmbitos público e privado.
Quando acontecem em uma instituição diferente da primeira, a tendência é de fragmentação das informações e a situação pode ser ainda mais complexa, com repetição de exames e tratamentos já realizados.
Uma pesquisa conduzida pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS) revelou que as internações respondem pela maior parcela da despesa assistencial na saúde suplementar brasileira. De 2019 a 2022, o custo médio de uma internação subiu de aproximadamente R$6,4 mil para R$10 mil.
Também ficou evidenciado como a idade do paciente impacta esses valores: o custo médio de hospitalização de uma pessoa na faixa etária acima dos 60 anos é mais que o dobro que de uma pessoa na faixa de 24 a 28 anos.
O estudo “Hospital discharge and readmission”, publicado em 2023, mostra que os gastos relacionados apenas a readmissões não planejadas nos Estados Unidos podem chegar a 20 bilhões de dólares anualmente.
Esses números se tornam ainda mais impressionantes quando contrapostos aos achados de outro estudo que sugere que um quarto das reinternações registradas no país seriam “potencialmente evitáveis” (“Preventability and Causes of Readmissions in a National Cohort of General Medicine Patients”).
Gestão de leitos de alta complexidade
Outro prejuízo que as reinternações trazem ao sistema de saúde é de ordem logística.
A disponibilidade de leitos, especialmente os de alta complexidade, acaba sendo afetada pelo retorno não programado de pacientes pouco tempo depois da alta.
Quando um paciente portador de doenças ou condições crônicas, por exemplo, retorna desnecessariamente ao hospital, ele está, na verdade, ocupando um leito que deveria ser destinado a casos agudos.
Paciente mais vulnerável a complicações
Do ponto de vista assistencial, as reinternações são um problema grave, que prejudicam a jornada do paciente.
Atualmente, sabe-se que o melhor lugar para o paciente estar é a própria casa. No ambiente hospitalar, por mais que existam protocolos e barreiras de segurança, ele acaba exposto a eventos adversos, sejam eles infecciosos ou não. Confira, a seguir, os principais:
Infecção hospitalar
A permanência prolongada no ambiente hospitalar é um dos principais fatores para a transmissão de infecções. Idosos, pacientes com doenças crônicas, que estejam com o sistema imunológico enfraquecido ou internados em Unidades de Terapia Intensiva estão entre os mais suscetíveis.
Agravamento da saúde mental
O afastamento da rotina e do convívio de familiares e amigos por tempo prolongado pode levar ao desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão, atrasando a recuperação do paciente.
Debilidade física
Quanto mais tempo passa no leito, sem se movimentar, mais o paciente corre o risco de perder massa magra e, consequentemente, ter mais dificuldade de movimentação.
Óbito
Reinternações podem transformar um cenário tratável em um quadro terminal. Com o sistema imunológico já debilitado, a tendência é de que a recuperação se torne ainda mais delicada depois de uma segunda hospitalização.
Mas afinal, o que está por trás das readmissões hospitalares?
Vários motivos podem levar o paciente a retornar ao hospital poucos dias depois da alta, incluindo tratamentos pouco eficientes, complicações não previstas da doença ou mesmo um planejamento de alta equivocado.
No entanto, muitas vezes esse retorno está associado a dificuldades do paciente e seus familiares em dar continuidade aos cuidados após a alta.
Muitos não se sentem preparados ou capazes de lidar com dispositivos médicos, têm dificuldades em retomar atividades diárias ou mesmo de administrar medicamentos no longo prazo. Diante disso, a adesão ao tratamento cai. E, em vez de se recuperar, o paciente vê seu quadro piorar até precisar ser novamente hospitalizado.
É justamente nesse “intervalo” entre a alta hospitalar e a volta para a casa que se encaixam as clínicas de transição, unidades de referência em cuidados especializados que podem representar uma alternativa eficiente – tanto no âmbito assistencial quanto no financeiro – para evitar reinternações.
Como as Clínicas de Transição podem contribuir para evitar reinternações
As clínicas de transição são especializadas em receber o paciente que terminou sua jornada no hospital de alta complexidade, mas, por questões assistenciais ou de capacitação para o cuidado, ainda não está apto a ir para casa com segurança.
Nessas unidades, além da prestação de assistência especializada, personalizada e multidisciplinar dentro de três possibilidades (reabilitação, cuidados crônicos e cuidados paliativos), acontece um intenso processo de educação e capacitação de pacientes, seus familiares e cuidadores.
Essa estratégia permite que, ao final do período de transição, tenha-se trabalhado, em paralelo, dois pontos cruciais para reduzir as chances de reinternação:
1 – A reabilitação do paciente, com fortalecimento de suas capacidades motoras e cognitivas, visando ao atingimento da sua máxima autonomia e reintegração;
2 – A preparação de sua rede de apoio, que terá plenas condições de executar, no domicílio, todos os cuidados necessários para a manutenção da segurança e da qualidade de vida do seu ente querido.
O estudo “Qualidade da transição do cuidado e sua associação com a readmissão hospitalar”, publicado em 2019, ressalta que pesquisas internacionais têm encontrado relação direta entre a redução de taxas de reinternação e a elevada qualidade da transição de cuidados.
Isso reforça a importância dessa proposta assistencial, “uma vez que contribui para a coordenação e a continuidade dos cuidados, minimizando os eventos adversos e as demais complicações pós-alta”.
Especialistas também defendem que a transição de cuidados é fundamental para qualificar o processo de desospitalização e contribuir para uma alta mais segura, sem a necessidade de reinternação.
Dessa forma, favorece não apenas a qualidade de vida dos pacientes, mas a sustentabilidade do ecossistema de saúde, reduzindo gastos e colaborando para uma gestão mais eficiente. Quer entender mais sobre a economicidade na transição de cuidados? Confira um vídeo especial publicado em nosso Portal.
Rede de apoio ao paciente: como envolver, orientar e preparar essas pessoas
Após passar por uma internação e intervenções de alta complexidade decorrentes de um evento agudo grave, é comum que pacientes – e, consequentemente, sua rede de apoio – tenham que conviver com sequelas cognitivas ou físico-funcionais.
Mas a realidade é que a maioria das pessoas não está preparada para lidar com essa situação e precisa de um tempo para assimilar as mudanças e se preparar para a nova realidade.
Nesse contexto, as unidades de transição de cuidados podem oferecer um suporte valioso. Em primeiro lugar, porque trabalham com foco na reabilitação desses pacientes de maneira individualizada e coordenada, em um ambiente totalmente planejado para isso.
Em segundo, porque oferecem suporte e preparação qualificada para familiares e cuidadores desse paciente, com objetivo de garantir que sua volta ao lar seja segura (evitando reinternações) e proporcione qualidade de vida.
Neste artigo, vamos entender como as clínicas de transição têm trabalhado para envolver, orientar e capacitar a rede de apoio de seus pacientes.
Como envolver a rede de apoio
Um dos principais diferenciais do atendimento prestado nas unidades de transição é a busca pelo envolvimento da rede de apoio dos pacientes em seus cuidados desde o momento da admissão. Tanto que é comum que as clínicas desenvolvam protocolos de educação em saúde voltados especificamente para esse público.
Esses protocolos são colocados em prática nos momentos seguintes à entrada do paciente e envolvem diferentes etapas até a alta.
Por isso, desde a admissão, a família é orientada a se organizar para garantir que as pessoas que vão participar mais ativamente dos treinamentos sejam as mesmas responsáveis pela continuidade dos cuidados em casa.
Mesmo nos casos em que o paciente possui cuidadores ou atenção domiciliar, é orientado aos familiares que designem uma pessoa de referência para acompanhar todo esse processo.
Dessa forma, a família terá entendimento e domínio dos cuidados necessários não apenas para acompanhar com mais propriedade a qualidade do trabalho prestado ao paciente, mas também para agir em momentos em que não seja possível contar com a prestação do serviço.
Em resumo, é apresentado à família a importância de que tenha domínio sobre esses cuidados para que sejam feitos (por ela ou por outros) de forma qualificada, evitando complicações, reinternações e garantindo a continuidade dos ganhos obtidos durante a transição.
Etapas de capacitação da rede de apoio
1. Aulas teóricas
A primeira etapa da capacitação da rede de apoio do paciente são as aulas teóricas.
Nelas, os profissionais da equipe transdisciplinar vão explicar todas as necessidades do paciente e os procedimentos cotidianos que elas envolvem, além de demonstrar a familiares e cuidadores todos os cuidados necessários para prevenir agravos, garantindo a segurança e qualidade de vida do seu ente querido.
Veja alguns exemplos:
- Se o paciente não pode ser desmamado da traqueostomia, sua rede de apoio vai ser apresentada ao dispositivo, entender como ele funciona, os riscos envolvidos no seu manejo e que sinais de alerta observar no dia a dia.
- Se o risco é de queda, a família e cuidadores são orientados sobre como ajustar o domicílio para prevenir quedas e os pontos de atenção.
- Caso o risco seja de broncoaspiração, a rede de apoio conhecerá os manejos corretos para oferta de alimentação, como se posicionar e os demais cuidados necessários para prevenir essa complicação, muito comum em pacientes com mobilidade reduzida e que usam dispositivo respiratório ou de alimentação.
2. Conhecimentos colocados em prática
Depois do módulo teórico, a família inicia o treinamento prático beira leito. Para que as pessoas tenham tempo de absorver os novos conhecimentos e se sintam seguras para executá-los, o treinamento geralmente é dividido em etapas.
1 – Num primeiro momento, os profissionais da equipe transdisciplinar apenas demonstram detalhadamente como executar o cuidado.
2 – Depois, a família e cuidadores são convidados a participar do procedimento, realizando parte dele com os profissionais.
3 – E, num terceiro estágio, os profissionais permitem que as pessoas da rede de apoio executem o procedimento por completo, sob sua supervisão.
3. A importância do envolvimento gradual
Um exemplo muito comum nas clínicas de transição é o de pacientes que chegam com uma ferida crônica. A completa cicatrização desse tipo de lesão costuma levar um tempo superior ao da internação. Ou seja, será necessário que a família aprenda como fazer e continue realizando os cuidados em casa.
A questão é que, um curativo – que, à primeira vista pode parecer um procedimento trivial, especialmente para quem é da área de saúde – tem potencial para se tornar um grande desafio para pessoas que não estão acostumadas, gerando angústia, repulsa ou medo de errar.
Por isso, as equipes transdisciplinares de unidades de transição usam a estratégia de introduzir essas “novidades” gradualmente, de maneira que a rede de apoio tenha tempo de desmistificar os procedimentos, se adaptar e começar a executá-los com confiança. Com informação qualificada, supervisão e suporte profissionais, as pessoas percebem que são capazes de dar continuidade aos cuidados.
4. Manutenção dos ganhos obtidos durante a internação
Os cuidados transmitidos à rede de apoio durante a internação do paciente na clínica de transição abrangem procedimentos para manutenção da segurança e qualidade de vida no dia a dia, mas não se restringem a isso.
A família e os cuidadores também aprendem exercícios e cuidados para que todos os ganhos (motor, funcional, entre outros) obtidos no período de internação não sejam perdidos após a alta.
Quanto tempo leva a capacitação da rede de apoio?
Como o nome sugere, a transição é uma instituição temporária de cuidados, na qual o paciente deve estar por tempo suficiente para a reabilitação dentro das suas possibilidades e a reversão de sequelas que, em seu caso, apresentem possibilidade de reversão.
O ideal é que esse não seja um período prolongado. Por isso é importante aproveitá-lo da forma mais eficiente possível. Sendo assim, as ações para envolver e capacitar a rede de apoio desse paciente são realizadas desde sua chegada até a alta.
Criação de vínculo é fundamental
Acompanhar um ente querido durante um momento complexo de saúde é uma situação delicada, em que familiares precisam resolver questões práticas, assimilar novos conhecimentos e tomar decisões importantes ao mesmo tempo em que lidam com sentimentos como angústia, insegurança e medo.
Para tentar facilitar esse processo, as clínicas de transição têm investido na formação de um vínculo forte de confiança entre membros da equipe transdisciplinar e a rede de apoio dos pacientes.
Uma das estratégias que tem apresentado bons resultados é manter a mesma equipe em todas as etapas do cuidado durante a internação, da admissão à alta, num modelo chamado de cuidado longitudinal.
Isso significa dizer que os mesmos profissionais que administram medicação, realizam as terapias e monitoramentos com o paciente cuidarão também da completa capacitação da rede de apoio (fases teórica e prática beira leito).
Se você quer se aprofundar um pouco mais sobre a transição de cuidados, entenda como funciona a jornada do paciente e como se preparar para esse momento.
Clínica de Transição e seus benefícios
Confira a entrevista completa com o CEO da Rede Paulo de Tarso, Carlos Costa, sobre a importância das Clínicas de Transição. Conheça o conceito desse modelo de cuidados e os benefícios relacionados à economicidade e sustentabilidade para o setor da saúde.
Além disso, entenda como os serviços de uma Clínica de Transição podem trazer qualidade de vida para pacientes e sua rede de apoio e o papel das equipes transdisciplinares.
Transição de Cuidados: do que estamos falando?
Com o envelhecimento da população e a necessidade de uma mudança estrutural no modelo de saúde brasileiro, a transição de cuidados ganha cada vez mais destaque.
Este é um conceito relativamente novo, especialmente no Brasil, onde a primeira unidade foi instalada em meados da década de 70, mas que só ganhou destaque e viu surgir outras unidades com esse propósito já no início dos anos 2000. É, portanto, natural que ele evolua e se fortaleça ao longo do tempo, a partir de resultados assistenciais que garantem a qualidade de vida aos pacientes e também de novos estudos e pesquisas acadêmicas.
Mas a verdade é que, atualmente, uma grande parcela da sociedade ainda desconhece esse modelo. E, mesmo entre profissionais e empresas ligadas a serviços de saúde, ainda existe uma certa dificuldade em diferenciar alguns conceitos ou chegar a consensos em relação às propostas assistenciais que eles oferecem.
Neste texto, trazemos alguns dos principais conceitos ligados ao universo da transição de cuidados e estabelecemos as principais diferenças entre eles.
O que são as unidades de transição de cuidados?
Para entender melhor este cenário, precisamos estabelecer as diferenças entre conceitos como transição de cuidados, cuidados de transição, hospice, cuidados prolongados e cuidados de retaguarda.
Antes de entrarmos na definição de cada um desses conceitos, é necessário esclarecer que alguns deles ainda estão em evolução ou definição no Brasil. E isso acontece, em boa parte, por ainda não haver uma regulamentação que os estabeleça, de forma objetiva e abrangente.
Mesmo assim, com apoio da literatura e de sociedades científicas, órgãos governamentais e práticas clínicas, é possível determinar algumas diferenças básicas e fundamentais.
Vamos começar com os serviços de transição de cuidados, sejam eles hospitais ou clínicas.
Serviços de transição de cuidados se caracterizam por serem unidades destinadas a programas intensivos de reabilitação ou adaptação de condições crônicas, de rápida reinserção social. O período de permanência nessas unidades é previsto na proposta terapêutica definida, no momento da internação, por equipe transdisciplinar, em que exista a possibilidade de estabelecer ganhos funcionais, clínicos ou realizar cuidados paliativos em sua fase final.
Um serviço que se propõe a realizar a transição de cuidados deve buscar:
– O processo da alta qualificada (segura e coordenada) dos seus pacientes sempre que possível
– Estabelecer alto padrão técnico na assistência prestada
– Promover – por meio de linhas de cuidados, protocolos e diretrizes – as melhores práticas assistenciais para gerar desfechos clínicos favoráveis e economicidade em saúde.
Transição de cuidados não é o mesmo que cuidados de transição
A American Geriatrics Society (AGS), assim como outros autores, descrevem os cuidados de transição como “um conjunto de ações destinadas a assegurar a coordenação e a continuidade dos cuidados de saúde enquanto os pacientes são transferidos entre diferentes níveis de atenção, podendo estes ocorrer dentro ou não do mesmo local.”
Ou seja, os cuidados de transição são práticas que acontecem com coordenação de cuidados entre os diversos serviços de saúde ou dentro de uma mesma instituição. Podendo, inclusive, acontecer em diferentes setores de hospitais gerais de alta complexidade e entre diferentes linhas terapêuticas como na nefrologia, oncologia, cardiologia e outras especialidades e modalidades.
Cuidado de transição não tem, portanto, relação com serviços especializados e sim com uma estratégia de cuidados.
Logicamente, os serviços de transição de cuidados realizam cuidados de transição, principalmente por envolver, em seu exercício, a transferência de responsabilidade de cuidados e de informações entre prestadores e famílias, com o objetivo de manter a continuidade dos atendimentos e da segurança dos pacientes.
O modelo de hospice
O termo Hospice (hospedarias, em português) vem da Idade Média. Começou a ser mais comumente usado durante as Cruzadas, época em que era comum buscar hospedagem em monastérios, que abrigavam não apenas doentes e moribundos, mas famintos, mulheres em trabalho de parto, pobres, órfãos e leprosos (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2021).
Na prática, hospice é uma filosofia aplicada aos cuidados de pessoas com doenças de maior complexidade, difíceis de serem gerenciadas em domicílio. Muitas dessas doenças são incuráveis, e os pacientes se encontram em cuidados paliativos.
Em uma instituição estruturada, em sua totalidade, dentro do modelo de hospice é complexo determinar condições de previsibilidade do tempo de permanência de pacientes, pois o perfil assistencial predominante é o de cuidados paliativos e, muitas vezes, em diferentes estágios e também abordando questões sociais.
No Brasil, existem muitos serviços que adotam e se especializam dentro da filosofia do hospice. Como na América do Norte e na Europa, eles vão ganhando corpo e características próprias. Porém, devido à ausência de regulamentação específica, também esbarram em dificuldades conceituais e questões técnicas, inclusive junto às fontes pagadoras.
As unidades de transição de cuidados, em sua grande maioria, absorvem os cuidados paliativos e também a filosofia do hospice, porém diferem na execução: eles são oferecidos como linha de cuidados quando são exclusivos em fases avançadas.
Nesses casos, é possível determinar prognóstico para cuidados em nível de internação e suporte avançado por meio de uma avaliação global, do uso de protocolos e da montagem de um plano terapêutico baseado em instrumentos preditivos de sobrevivência como Palliative Performance Scale (PPS), Karnofsky Performance Status (KPS), Palliative Prognostic Index (PPI) e Palliative Prognostic Score (PaP).
A filosofia dos hospices estabelece visitas ampliadas, acesso de crianças e animais de estimação, flexibilidade na assistência e nas predileções dos pacientes, além do cuidado centrado no cliente. As unidades de transição de cuidados também adotam essas ações, com a diferença de que são acessíveis a todos os seus pacientes (cuidados paliativos, em reabilitação ou doenças crônicas).
Instituições de cuidados prolongados e de retaguarda
A ideia geral por trás desses dois conceitos é otimizar o uso dos leitos de alta complexidade e proporcionar uma articulação mais fluida com os serviços de atenção básica.
Diferentemente dos demais termos tratados até agora, os cuidados prolongados foram definidos pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria GM n° 2.809, de 7 de dezembro de 2012. Eles destinam-se a pacientes em situação clínica estável que necessitam de reabilitação e/ou adaptação a sequelas decorrentes de processo clínico, cirúrgico ou traumatológico. É, portanto, uma etapa intermediária entre os cuidados hospitalares de caráter agudo e crônico reagudizado e o retorno do paciente ao domicílio.
O conceito e a estratégia definidos na portaria ministerial são bastante próximos ao que se propõem as unidades de transição de cuidados, com uma diferença muito importante na prática: nas instituições de cuidados prolongados, geralmente não há um prazo determinado para a permanência do paciente. Muitas vezes, a ocupação desses leitos se dá por pacientes em situação crônica e que não têm condições de receber cuidados em casa.
A retaguarda, por outro lado, não é propriamente um perfil assistencial. É uma estratégia que propõe que clínicas e hospitais habilitados formem, como o nome sugere, uma rede de apoio às instituições de alta complexidade e à Rede de Urgência e Emergência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Os cuidados de transição podem ou não estar incluídos nessa estratégia.
Importância da regulamentação
As diferenças entre os conceitos que povoam o universo dos cuidados de transição às vezes são sutis na teoria, mas abarcam questões fundamentais e importantes na prática diária.
Essa fluidez de interpretações pode tanto causar confusão no entendimento de pacientes sobre tipos de serviços e modelos de saúde à sua disposição quanto dificuldades de ordem prática e administrativa para profissionais, hospitais e operadoras de saúde.
Justamente por isso, um dos tópicos bastante debatidos pelo setor de saúde atualmente é a necessidade de uma regulamentação mais completa, abrangendo o segmento de cuidados de transição. A ideia é que haja uma definição melhor da prestação desses serviços tanto no nível público quanto no privado.
Equipe transdisciplinar: entenda seu papel nos cuidados de transição
O enfrentamento dos desafios impostos por um AVC, uma doença crônica ou em estágio de cuidados paliativos são situações complexas, que envolvem uma gama de atendimentos especializados.
Quanto mais integrados e coordenados forem esses cuidados, maiores as chances de reinserção desse paciente em seu convívio social, com o máximo possível de autonomia, ganhos e funcionalidades. Com isso em vista, clínicas de transição têm como uma das bases de sua estrutura as equipes transdisciplinares.
Neste artigo entenda o papel de uma equipe transdisciplinar e o seu impacto nos cuidados de transição de um paciente.
O que é e o que faz uma equipe transdisciplinar?
A equipe transdisciplinar reúne profissionais altamente qualificados de diferentes especialidades, que trabalham de forma integrada e colaborativa, desde a admissão do paciente.
Eles atuam de forma abrangente, tanto ajudando o paciente a alcançar seus objetivos clínicos quanto preparando e orientando sua família e seus cuidadores para que possam apoiá-lo em um retorno seguro ao lar.
Essa equipe é geralmente composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de radiologia, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos clínicos e assistentes sociais.
No dia a dia da instituição de transição de cuidados, cada membro dessa equipe contribui com seus conhecimentos técnicos para avaliar o estado de saúde do paciente. Essa visão abrangente, baseada em diferentes perspectivas, torna possível que se chegue a um plano terapêutico personalizado, mais completo e preciso, que leva em consideração tanto aspectos físicos quanto emocionais e sociais.
A estreita colaboração entre esses profissionais contribui para que os cuidados sejam coordenados e que não haja lacunas na assistência. Isso evita a duplicação de esforços e erros de comunicação.
A prática da equipe transdisciplinar
Depois de avaliar cada paciente admitido, sua condição de saúde e suas necessidades específicas, a equipe transdisciplinar estabelece objetivos de tratamento e inicia, conjuntamente, as terapias e cuidados pertinentes para atingir o melhor desfecho clínico possível.
Abaixo, estão alguns dos procedimentos e terapias que as equipes transdisciplinares realizam no dia a dia. A partir deles, é possível ter uma dimensão da abrangência e da complexidade dos atendimentos realizados em uma instituição de transição de cuidados.
É importante, no entanto, ressaltar que esses são apenas alguns exemplos e que tanto os objetivos quanto as terapias utilizadas variam conforme as necessidades de cada paciente.
Terapias para ganhos de função motora
Objetivo: Ganho de mobilidade, força muscular.
Exemplos: Voltar a ter controle do tronco e recuperar a capacidade de permanecer sentado, conseguir se mover sozinho da cama para a cadeira de rodas e vice-versa, ficar de pé, voltar a andar.
Benefícios: Além de mais independência e melhoria da qualidade de vida, esses ganhos reduzem riscos de lesão, trombose e broncoaspiração.
Terapias para ganhos de funcionalidade
Objetivo: Melhorar a capacidade de realizar as atividades diárias.
Exemplos: Tomar banho, usar o vaso sanitário, vestir-se, alimentar-se, locomover-se.
Benefícios: Mais independência, qualidade de vida e segurança, além de facilitar o cuidado.
Terapias para ganhos de condição cognitiva
Objetivo: Melhorar as condições mentais do paciente por meio de subavaliações de orientação, memória e atenção.
Exemplos: Dialogar com clareza, participação social, memória afetiva.
Benefícios: Melhor compreensão, autonomia e participação social.
Terapias para ganhos fonoaudiológicos
Objetivo: Eliminar ou reduzir o grau de comprometimento da função de deglutição e proteção de vias aéreas e das funções de compreensão e expressão oral.
Exemplos: Engolir e alimentar-se com segurança.
Benefícios: Desmame de vias de alimentação alternativa (sondas de alimentação), redução da dificuldade para engolir, melhoras na fala e na compreensão.
Protocolos para desmame de oxigênio suplementar, traqueostomia ou ventilação mecânica
Objetivo: Reduzir riscos de complicações, infecções ou traumas e aumentar qualidade de vida por meio da remoção de equipamentos de suporte e/ou invasivos.
Elegibilidade: Na admissão, a equipe avalia se o paciente reúne as condições necessárias para iniciar o protocolo de desmame.
Suporte a familiares e cuidadores
Um outro aspecto fundamental do trabalho das equipes transdisciplinares nas instituições de transição de cuidados é a interação próxima e transparente com familiares e cuidadores dos pacientes.
Esse contato se dá com base em dois objetivos principais. O primeiro deles é manter um canal de comunicação e esclarecimento de possíveis dúvidas a respeito da evolução do plano terapêutico e dos objetivos estabelecidos.
O segundo está ligado à preparação desses familiares e cuidadores para receber o paciente em casa de forma segura e estruturada após o período de transição de cuidados. E isso engloba preparação psicológica, aprendizado de práticas assistenciais e até mesmo orientações sobre como adaptar espaços físicos.
Nas instituições de referência no setor de transição de cuidados, as equipes transdisciplinares oferecem oficinas de Educação em Saúde para transmitir a familiares e cuidadores informações relevantes como alimentação segura, mobilização segura, atividades de vida diária, prevenção de lesões e gestão de riscos.
Se você busca conhecer mais sobre cuidados de transição e o impacto na saúde, continue acompanhando nosso Portal e fique por dentro das novidades do setor e da visão de especialistas da área.
Entenda a jornada do paciente na transição de cuidados
O termo jornada do paciente tem sido usado para descrever o caminho que uma pessoa percorre a partir do momento em começa a investigar algum sintoma ou alteração na saúde até o desfecho dessa busca.
No contexto da transição de cuidados, essa jornada engloba uma série de particularidades que são ainda pouco conhecidas para a maioria das pessoas, mas que podem ser uma virada de jogo para quem enfrenta doenças crônicas, está em cuidados paliativos, se recupera de um evento agudo, como um AVC, ou possui um ente querido em situações como essas.
Quando começa a jornada do paciente na transição?
Primeiramente, é importante estabelecer como a transição de cuidados se insere no sistema de saúde.
As clínicas de transição são unidades de referência em transição de cuidados – práticas coordenadas para a continuidade dos cuidados e transferência do usuário do ambiente hospitalar para o domiciliar. São considerados, então, um elo entre os serviços de alta complexidade oferecidos no hospital geral e o retorno seguro do paciente ao seu lar.
Portanto, a transição pode surgir na jornada do paciente após um evento agudo, quando ele já apresenta um quadro clínico estável, mas ainda necessita de cuidados ou de um período de reabilitação e adaptação. Ou então quando ele tem o diagnóstico de uma doença sem perspectiva de cura e requer cuidados paliativos.
Acolhimento
Vamos, agora, entender a jornada do paciente a partir do momento em que opta pela transição de cuidados.
A primeira etapa é o acolhimento – iniciado antes mesmo da admissão, por meio de contatos de profissionais da área de atenção ao cliente.
Eles se colocam à disposição do paciente e seus familiares para apresentar a instituição, suas linhas de cuidado, sua estrutura, seu modo de atuação e esclarecer dúvidas. Também interagem com membros da equipe médica ou do setor de desospitalização do local onde o paciente foi atendido na fase aguda. O objetivo desses contatos é compartilhar informações clínicas relevantes a fim de garantir a continuidade segura e eficiente dos cuidados.
Avaliação transdisciplinar e definição do plano terapêutico
A partir da admissão, uma ampla avaliação das condições de saúde do paciente é realizada por uma equipe transdisciplinar (médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos clínicos e assistentes sociais).
Essa abordagem abrangente e humanizada é fundamental nos cuidados de transição. Com base nela, são definidas ações de saúde e sociais integradas, que visam à desospitalização segura e em tempo adequado.
Paciente e família são apresentados a esse plano terapêutico, que contém as metas de saúde a serem atingidas dentro do tempo previsto da internação, além dos respectivos objetivos terapêuticos.
É importante ressaltar que, na transição de cuidados, os planos são individualizados. O que significa dizer que pacientes com o mesmo diagnóstico podem ter uma rotina diferente de reabilitação. Por exemplo: dois pacientes que passaram por um AVC, mas têm sequelas distintas, vão necessitar de terapias diferentes.
Terapias e tratamentos
Depois de conhecer e esclarecer dúvidas sobre o plano terapêutico, o próximo passo da jornada é executá-lo. O paciente vai iniciar as terapias e tratamentos previstos, na frequência e intensidade necessárias para que atinja os melhores resultados possíveis dentro do seu caso específico.
Dentre as terapias e tecnologias especializadas que clínicas de transição disponibilizam para os pacientes em recuperação estão: cinesioterapia (conjunto de exercícios fisioterapêuticos para estimular coordenação motora, flexibilidade, equilíbrio e funcionalidades); eletroestimulação; câmara hiperbárica; técnicas de terapia ocupacional para desenvolvimento das Atividades de Vida Diárias (AVDs); arteterapia; musicoterapia; terapias em grupo com pacientes e familiares e até mesmo terapias assistidas por animais, uma prática complementar que vem mostrando resultados positivos na promoção de bem-estar físico, emocional e social dos pacientes.
Acompanhamento
Para mensurar se os esforços do plano terapêutico estão surtindo o efeito esperado no tratamento dos pacientes, a equipe transdisciplinar conta com uma série de indicadores, que são alimentados diariamente e periodicamente analisados.
Essa etapa da jornada permite ajustar o plano terapêutico sempre que necessário, alterando objetivos de tratamento, reforçando ou incluindo novas terapias.
Retorno ao lar
O retorno ao lar é a reta final da jornada do paciente na transição de cuidados. Nas semanas que antecedem a alta, são intensificadas as ações de preparação de familiares e cuidadores que já vinham sendo realizadas ao longo de todo o período de internação.
Em encontros educativos, os membros da equipe transdisciplinar capacitam essas pessoas a fim de que elas entendam as novas necessidades do seu ente querido e atuem de forma segura na manutenção de sua qualidade de vida.
Esses encontros compreendem questões práticas como identificar parâmetros clínicos (frequência cardíaca, pressão e saturação), alimentação segura, prevenção de lesões e gestão de riscos, entre outras.
Além disso, as equipes das instituições de transição de cuidados costumam manter o contato por um período após a alta hospitalar. Essa é uma forma de se certificar de que paciente e familiares estão devidamente adaptados à nova rotina.
Para saber mais sobre o modelo de transição de cuidados e suas especificidades, continue acompanhando nosso blog.